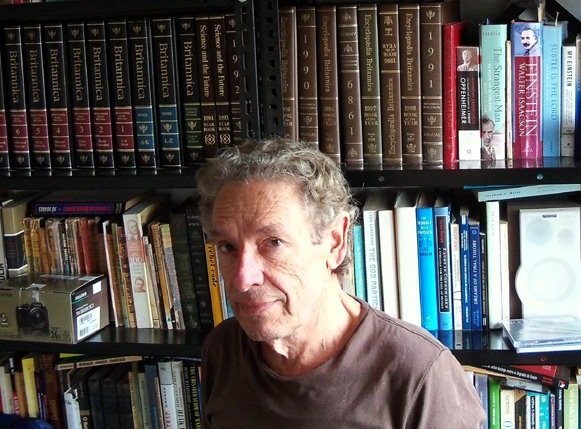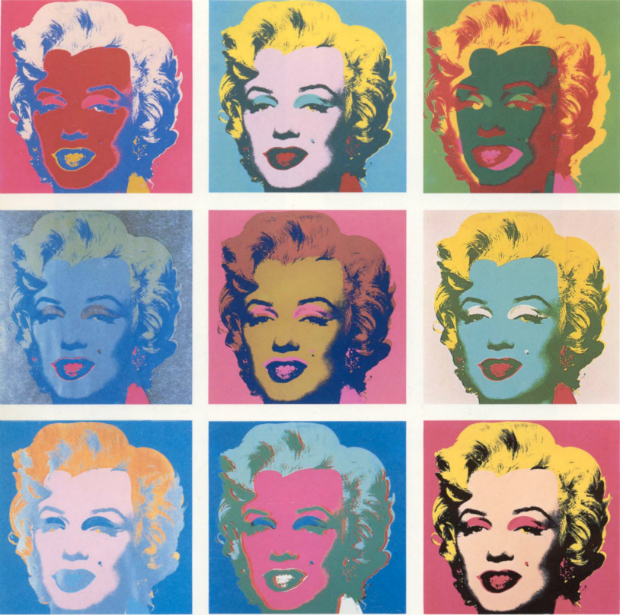Países que relataram ao menos um caso de tuberculose multirresistente, em vermelho (Mapa: OMS)
NA SEMANA PASSADA, tive uma interessante conversa com a epidemiologista brasileira Carmem Lúcia Pessoa-Silva, chefe do programa da OMS (Organização Mundial da Saúde) para combate a micróbios resistentes a antibióticos. Publicamos uma reportagem sobre o novo trabalho do grupo, um relatório que eleva o problema das chamadas “superbactérias” a uma crise global.
Uma das coisas que mais me impressionou na entrevista que tive com essa médica, uma das grandes responsáveis por dar o tom de urgência ao problema, foi sua preocupação com o fracasso da indústria farmacêutica em lidar com o problema. É basicamente uma falha de mercado, pois desenvolver antibióticos hoje em dia já não interessa a nenhuma instituição com fins lucrativos. Por outro lado, instituições independentes não tem tido como arcar com os custos de desenvolvimento desse tipo de droga.
Para Pessoa-Silva, os antibióticos têm de ser vistos como um bem público. “Nós deveríamos desconectar os custos de desenvolvimento e de fabricação do retorno financeiro com as vendas”, diz. É para projetar essa transição que a OMS está promovendo agora diálogos com a indústria farmacêutica e a indústria alimentar. Esta outra é uma das grandes responsáveis pelo surgimento de bactérias resistentes, também por uma falha da economia de mercado que permite o uso de antibióticos para engorda na pecuária, para prejuízo da medicina humana.
Longe de mim querer pedir o fim do capitalismo por causa disso (tenho grande apego a meus bens materiais), mas fui persuadido de que será necessária uma intervenção governamental para resolver essa crise. Leia abaixo íntegra da entrevista com Pessoa-Silva:
*
FOLHA – A crise da resistência a antibióticos já vem se desenhando há algumas décadas. O que o relatório da OMS traz de novo?
CARMEM LÚCIA PESSOA-SILVA – Pela primeira vez, uma avaliação tão completa foi realizada. É claro que você já existem muitos relatos e estudos isolados, mas é a primeira vez que a OMS faz uma avaliação sistemática com informações oficiais dos países sobre a situação das bactérias multirresistentes.
Esse relatório é sobre resistência antimicrobiana como um todo. A categoria dos micróbios engloba bactérias, vírus, protozoários. Isso inclui parasitas como o plasmódio da malária e o HIV, mas o relatório põe foco sobre o problema das bactérias, apesar de também apresenta um breve resumo da situação de outras formas de resistência microbiana.
E o relatório confirma o que se suspeitava com base em relatos mais pontuais: a situação da resistência antimicrobiana existe em todos os países investigados. Estamos chegando ao ponto em que o tratamento para infecções causadas por algumas bactérias já é praticamente impossível.
A OMS escolheu sete bactérias como foco dos problemas mais graves. Quais foram os critérios para avaliar isso?
Nós escolhemos essas sete bactérias porque elas tem uma gênese de infecção tanto nas comunidades quanto nos hospitais. Um exemplo de uma infecção que geralmente é adquirida na comunidade é a gonorreia. Ela é um problema crescente no mundo, e é claro que, em primeira instância, precisamos tentar evitar a transmissão, mas o que estamos verificando é que cada vez mais surge uma forma de gonorreia que não responde a nenhum tratamento disponível. Isso é muito grave.
Nós também estamos verificando que o Staphylococcus aureus está sendo cada vez encontrado em formas resistentes, tanto nas comunidades quanto nos hospitais. E, mais grave ainda é uma forma de resistência que ocorre em enterobactérias, como a Klebsiella. O Brasil teve um surto recente de Klebsiella resistente a todos os antibióticos. Estamos agora no limite de não ter nenhuma droga eficaz para essas infecções.
Entre os medicamentos perdendo eficácia, quais são aqueles que mais preocupam a comunidade médica? São as drogas de último recurso, como ciprofloxacina?
Durante algumas décadas havia uma certa ilusão e uma pretensão de a humanidade seria capaz de descobrir um novo antibiótico mais potente a cada vez que uma forma de resistência surgisse. Só que nós estamos chegando no limite. Há mais de 20 anos não ocorre o descobrimento de uma nova classe de antibióticos. Existem dificuldades científicas para isso, e existem dificuldades do ponto de vista de mercado para descobrir novas drogas. A crença de que sempre vai ser descoberto um novo antibiótico, que vai vir para resolver o problema, é uma falácia. Nós aprendemos depois de quatro décadas que a resistência aparece, um antibiótico após o outro. Nós avaliamos a situação de antibióticos de última linha, como a fluoroquinolona e a ciprofloxacina. É preocupante.
Veja o caso das infecções urinárias, por exemplo. No curso de uma gestação, é extremamente frequente que a grávida tenha uma, duas ou mais infeções urinárias. E é uma infecção frequente na mulher, mesmo fora da gravidez. Nós estamos verificando que, na maior parte do mundo, a resistência a drogas orais, como a ciprofloxacina, já atinge níveis em que ela não é mais eficaz nem em 50% dos tratamentos.
Para outras drogas de última linha, como os carbapenêmicos e as cefalosporinas, haviam sido observadas bactérias resistentes a essa geração de medicamentos, mas aí criamos os carbapenêmicos, e havia esperança de que eles poderia controlar isso. Qual nada. Estamos observando que as enterobactérias não estão mais respondendo a carbapenêmicos que estão na última das últimas gerações. Estamos chegando ao ponto em que infecções frequentes, sejam na comunidade seja no ambiente hospitalar, estão no limite de não serem mais passíveis de tratamento com os antimicrobianos existentes.
Quem deve levar a culpa por isso? É o uso indiscriminado de antibiótico para uso humano? É o uso de antibióticos na agropecuária?
É importante compreender que as bactérias existem no planeta desde muito antes da humanidade, e que elas sempre encontraram formas de sobreviver às adversidades do ambiente. O antibiótico agride as bactérias, e é natural que elas venham a desenvolver resistência aos antibióticos. Mas elas só desenvolvem essa resistência à medida que são expostas aos antibióticos.
Se o uso é abundante e maciço, vai haver uma aceleração da seleção de bactérias multirresistentes. Quanto mais a gente usa antibióticos, mais rápido vamos perder essas drogas. E nós precisamos mudar nossa forma de usar os antimicrobianos, seja no uso para tratar infecções em humanos, seja no uso em agropecuária.
No caso dos humanos, frequentemente uma pessoa tem uma febre que não passa, supõe que a febre esteja sendo causada por uma bactéria e começa a tomar antibióticos. Isso é feito sem procurar atendimento médico para um diagnóstico mais preciso, para saber se aquilo uma infecção bacteriana e requer mesmo um antibiótico ou não.
Há um uso indiscriminado tanto em saúde humana quanto na indústria alimentar. O uso de antibiótico em animais, principalmente o uso não terapêutico, para crescimento e engorda, precisa ser evitado. Existe um uso maciço hoje na ração e na água de animais de corte e também na piscicultura –em criações de camarão e peixes.
Esse tipo de uso é uma parte importante da pauta de discussões da OMS com a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). É um dos tipos de uso que deveríamos evitar. Estamos discutindo também com a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) a possibilidade de se diminuir o uso indiscriminado e o uso não terapêutico na produção de animais de corte.
A indústria alimentar muitas vezes usa o antibiótico misturado ao alimento dos animais. Em alimento comprado de fábrica, já existe uma certa quantidade de antimicrobianos, em baixas doses, o que é até pior em termos de seleção de germes multirresistentes. Existe também o uso de antibiótico na água dos animais.
Além de combater esse tipo de prática, o que pode ser feito contra as bactérias que já desenvolveram resistência? Existe uma via alternativa aos antibióticos para uso como medicamento. Uma década atrás, falava-se muito em resgatar o uso de vírus bacteriófagos como terapia, mas pouco se publica sobre isso agora.
O que precisa ser feito é adotar uma estratégia com duas linhas de ação. A primeira linha é ganhar tempo, evitando a infeção. No final das contas o nosso objetivo não é apenas preservar a capacidade de tratamento das infecções. O nosso objetivo fundamental é evitar que as pessoas adoeçam em primeira instância. Temos que promover mais os métodos que previnem a ocorrência das infecções, com melhorias das condições sanitárias das comunidades, com melhoras nas práticas de higiene doméstica, na lavagem de alimentos e das mãos, para evitar infecções de uma forma geral. Dessa forma se evita a necessidade de usar antimicrobianos.
Nos hospitais, é fundamental e urgente melhorar as condições de prevenção e controle de infeção. Os hospitais hoje em dia estão funcionando como fontes geradoras de resistência antimicrobiana.
E também é preciso melhorar a capacidade de diagnóstico para ter diagnósticos mais rápidos e mais precisos, para usar antimicrobianos com base nesses diagnósticos mais precisos.
Se de um lado temos de evitar infecções e promover o controle de infecções em hospitais, na outra parte precisamos promover o desenvolvimento tecnológico –novos métodos de tratamento, novas vacinas etc.– que vão ajudar a prevenção de infecção. E também novas alternativas terapêuticas. Podem ser novos antibióticos, mas não só. Existe ainda um campo enorme para ser explorado com novos antibióticos, mas há caminhos interessantes como alternativa ao uso de uma molécula antibiótica. Os fagos [bacteriófagos, vírus que infectam bactérias] foram explorados começo do século 20. Alguns estudos se iniciaram depois, mas é muito questionável. É uma área que não é bem conhecida, mas precisa ser estudada.
Existem outras estratégias que estão sendo estudadas, como a convivência ecológica. O Projeto Microbioma Humano, por exemplo, analisa bactérias “do bem”, que nos ajudam a nos defender das bactérias que causam infecção. Nós carregamos milhões de bactérias, e a maioria delas, na verdade, é necessária a nossa existência. Elas estão na pele, no tubo gastrointestinal e em outros lugares. Nós precisamos dessas bactérias. Hoje há muitas pesquisas para entender essas bactérias e como elas poderiam nos ajudar.
Por que o novo relatório da OMS deu menos destaque a outras formas de resistência microbiana, como para HIV ou malária?
O relatório apresenta um resumo da situação em malária tuberculose, HIV e influenza, porque já existem outros relatórios da OMS que falam especificamente dessas doenças de uma forma global, incluindo o problema da resistência. Por isso nesse relatório a OMS só apresentou um resumo, para demonstrar que a situação de resistência antimicrobiana afeta todos os germes.
A OMS já consegue estimar o impacto de saúde e o impacto econômico da resistência bacteriana?
Nesse relatório há um capítulo onde é feita uma análise para três das sete bactérias mais preocupantes. Queríamos saber se, ao estar infectada pela versão multirresistente dessas bactérias, em comparação à bactéria susceptível, uma pessoa teria maior risco de morte. Será que isso aumenta o tempo de hospitalização? Aumenta os custos de tratamento? Fizemos uma análise minuciosa de toda a literatura médica existente e demonstramos que o risco de morte para muitas das bactérias resistentes é pelo menos duas vezes maior quando comparado com uma bactéria susceptível a antibióticos. Existe um aumento real no risco de morte.
Mas nós estamos falando, por enquanto, de uma limitação de tratamento. Essas bactérias são multirresistentes, mas ainda há algum tratamento contra elas. O tratamento que resta são combinações tóxicas de drogas caras, e ainda assim o risco de morte continua elevado.
Os custos elevados de tratamento, porém, são apenas uma fração mínima do impacto econômico. Existem poucos estudos nessa área, mas estimamos que são em torno de um quarto do impacto está nos custos diretos. Os outros três quartos são custos indiretos, como a diminuição da produção no trabalho pelas pessoas infectadas.
O relatório de riscos mundiais do Fórum Mundial de Economia, de Davos, destacou em janeiro do ano passado um dos temas como a resistência aos antibióticos. A estimativa nesse relatório é a resistência a antibióticos pode ocasionar perdas de 1,4% a 1,6% do PIB. Isso é um impacto enorme. Nós estamos conduzindo estudos na OMS agora para avaliar esse impacto econômico com mais detalhes, mas os dados do Fórum Econômico Mundia já são interessantes para reflexão.
A sra. mencionou que há problemas de mercado para incentivar o desenvolvimento de novos antibióticos. O que a indústria farmacêutica pode fazer contra isso?
Esse é um problema que precisa ser discutido em colaboração entre os grandes laboratórios, o governo e a comunidade científica. De forma geral, é claro que a indústria produz para gera lucro; não é uma atividade filantrópica. Quando eles produzem um medicamento contra hipertensão, por exemplo, e o medicamento funciona, a pessoa começa a tomar aquele remédio, e toma para o resto da vida. É um uso crônico, prolongado. Eles gastam dinheiro para desenvolver o produto, para a produção e para o marketing, mas depois o investimento é recuperado e segue dando lucro durante anos, retornando muito mais dinheiro em relação ao que foi gasto.
Com os antibióticos no tratamento de uma infecção bacteriana, porém, o uso é curto. Eles em geral estão tratando infecções agudas. Além disso, como o surgimento de resistência é um fenômeno natural para as bactérias, com o passar dos anos, os antibióticos que um laboratório desenvolveram já não funcionam mais, e o retorno financeiro se acaba. É um mercado ingrato.
Além disso, quando se produz um antibiótico eficaz, o ideal é preservá-lo, e não fazer marketing para que ele seja usado maciçamente, pois quanto mais intensamente ele é usado, mais rápido vamos perdê-lo.
Essa equação para a fabricação de antibióticos precisa ser revista. O antibiótico, então, não pode mais ser visto como um bem comercial. Tem de ser visto como um bem público. Nós deveríamos desconectar os custos de desenvolvimento e de fabricação do retorno financeiro com as vendas.
Para isso, a OMS está trabalhando em negociações com a indústria farmacêutica e tentando descobrir qual seria um novo modelo econômico para equacionar, resolver e nos tirar desse beco sem saída no qual nos encontramos. A indústria não busca mais a produção de antibióticos porque ela não dá retorno, e nós estamos numa situação sem ter novos antibióticos eficazes para combater bactérias resistentes. Essa discussão está ocorrendo nesse instante, e envolve a OMS no centro, junto com governos, cientistas, buscando uma nova forma para equacionar custos de produção e decidir como reembolsar os custos dessa produção.
O principal recado da OMS agora, então, é que o problema têm de ser tratado como prioridade global?
Nós estamos diante de uma crise maior. Se nós não tomarmos medidas agora, nossos filhos, netos e as gerações futuras não vão ter tratamento para doenças comuns.
E não se trata apenas de voltar para a era pré-antibióticos na qual infecções simples podiam matar. Nós também corremos o risco de perder a medicina moderna. Pense num tratamento de câncer, por exemplo, no qual as pessoas ficam vulneráveis à infecção. Pense no tratamento de recém-nascidos prematuros. E cirurgias. Não teremos condições de manter tudo isso, porque essas situações são aquelas em que a pessoa fica vulnerável a infecções.